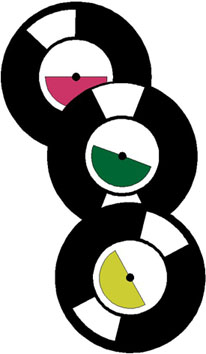
Por Kildare Rios
Foto Pesquisada
Tudo bem que a chamada Indústria Cultural nos ensinou que a arte pode e deve ser um produto, já que ela precisa ser divulgada e seu autor precisa ganhar dinheiro, se sustentar, para manter viva a chama de fazer arte. Mas desde os anos setenta que esta idéia está sendo levada muito a sério. A música que se faz de lá para cá é geralmente encomendada por um cartel de gravadoras que se unem para fazer moda e ditar tendências. Tudo isso em comum acordo com o resto da mídia, televisiva, radiofônica e imprensa escrita.
Quem tem mais de quarenta anos deve se lembrar de como tudo isso começou. Eu, por exemplo, me lembro de uma tendência lançada na novela das oito que dizia que, se o bom mesmo é música internacional, vamos nós mesmos fazer a nossa música internacional. Daí vieram vários artistas que, mesmo sem saber falar inglês, começaram a cantar músicas compostas especialmente para esta moda. Tivemos o Fábio Júnior, que se chamava Mark Davis, o saudoso cantor Jessé, que se chamava Tony Stevens, o Christian, da dupla Christian e Ralf, que se chamava Christian mesmo, e até o Maurício Alberto, que se rebatizou de Morris Albert e conseguiu que uma de suas músicas fosse gravada até pelo lendário Frank Sinatra. Todas essas letras, com exceção de Feelings, tinham gramática, ortografia e semântica inglesas no mínimo duvidosas.
Depois que essa onda passou, as gravadoras aproveitaram os embalos de sábado à noite para lançar, junto com a novela Dancing Days, a nova moda, que também teve tupiniquim cantando em inglês: a discoteque. Luzes estroboscópicas, globos de luzes, meias com lantejoulas, sirenes tocando, e uma batida tipo bate-estaca produzida por uma bateria eletrônica que ensurdecia até o mais saudável ouvido humano, eram agora associados aos meios de comunicação para tocar em todos os lugares e vender milhares de LPs. E tome Miss Lene, Lady Zu, Santa Esmeralda, Bee Gees, John Travolta, entre outros. O lado bom da história é que, mesmo sendo uma arte fabricada, de vez em quando os frutos são positivos, como se pode ver no caso de Morris Albert e dos australianos Bee Gees.
Mas muito ainda se estava por vir. Não é que, depois dessa onda, o rock nacional conseguiu abrir uma exceção às músicas fabricadas e lançou bandas e cantores que já estavam batalhando havia muito tempo e tinham um teor artístico muito aguçado? Não que se seja contra que alguém faça sucesso da noite para o dia, mas a legitimidade de quem ganha experiência depois de anos e anos de estrada, nos dá uma confiança maior na qualidade do resultado final. Depois do grupo A Cor do Som, a banda Blitz estourou nas paradas de sucesso com seu rock teatral e seu jeito irreverente comportadinho. Logo seguidos pelo Barão Vermelho, uma reedição dos Rolling Stones no Brasil, vieram os brasilienses Legião Urbana, com letras trabalhadas e músicas simples, seguidos pelo Capital Inicial. Depois a explosão do RPM que chegou à incrível marca de dois milhões e meio de cópias vendidas do seu Rádio Pirata Ao Vivo. Esse foi um dos últimos suspiros dessa leva que conseguiu imortalizar muito poucos, como os poetas Cazuza e Renato Russo.
Esse surto de boa música, honesta e consciente, acabou antes do final da década de oitenta. Mas não esqueçam que nem tudo eram flores naqueles dias. Tivemos que ouvir muita Xuxa com seus ilariês antes da nova onda ser lançada pelas gravadoras: a lambada. Vendida como mais um ritmo musical, uma tendência, a lambada nada mais era do que uma dança, que consistia em rodar a saia da menina para aparecer uma calcinha minúscula. Foi aí que os programas das tardes de domingo faturaram horrores e conseqüentemente, começaram uma guerra entre eles, mostrando até crianças dançando e mostrando as nádegas. A lambada era o prenúncio que o pior estava por vir.
Comendo pelas beiradas estavam os auto-intitulados sertanejos, que nada mais eram (são!) do que breganejos. Músicas bregas, boleros e canções, cantadas a duas vozes- geralmente uma delas esganiçada - e com acompanhamento, geralmente, muito competente, comprado pelos milhões faturados pelas duplas. Porém, bem longe das beiradas já estavam os pagodeiros. Não se sabe ao certo o por quê de se colocar o nome dos templos budistas nesse samba canção inventado nos morros do Rio de Janeiro. Esta é uma tendência que veio pra ficar, graças à força cultural daquela cidade.
Estamos agora na década de noventa. Como conseqüência daquela idéia da lambada, resolveu-se dar mais audiência às televisões nas tardes de domingo, mostrando um ritmo que é ladeado por uma coisa mais importante do que a música em si: os traseiros enormes das baianas. Mais uma vez as tardes de domingo, quando a família se reúne em frente da televisão, são invadidas por uma seqüência competitiva de grupos baianos que só trazem percussão e pessoas sem talento, rodeados de mulheres em trajes mínimos. O mais engraçado é que esta nova “tendência” não vendeu muitos discos, mas vendeu muito mais revistas masculinas. Não vamos comentar as letras das músicas, por que os erros de português e os excessos de vogais nos impedem de tecer qualquer crítica. Mas o pior ainda estava por vir.
Depois de um pequeno surto do funk - logo abafado pela imprensa que associou o movimento ao tráfico e ao consumo de drogas - a nova onda da segunda metade da década dos anos 2000 é o forró. Mais uma vez um ritmo, originalmente o baião e o xote, e agora não se sabe bem o quê, foi rebatizado com o nome da sua dança. O forró que se fazia na época de Luiz Gonzaga e Dominguinhos agora foi rebatizado de Pé de Serra, pois o nome forró agora pertence a uma nova oligarquia, que arregimenta rádios e mais rádios das capitais e do interior, que entram em cadeia com pequenas redes de televisão, para divulgar bandas sem identidade e sem ideologia, que fazem um som apenas dançante, com letras apelativas e sem sentido. O pastel nunca foi tão ruim e tão barato.
Depois de tantas armações das grandes e pequenas gravadoras com a mídia, que nos empurra arte de consumo imediato, esqueceu-se da original função dela, que é fazer bem aos sentidos e se incorporar à cultura, porém de uma maneira benéfica, preservando o que há de bom e inovando com boas idéias. Era assim desde os clássicos e está deixando de ser desde a implantação da chamada Indústria Cultural, que raramente tem o dom de reunir qualidade e produção artística.
Tudo bem que a chamada Indústria Cultural nos ensinou que a arte pode e deve ser um produto, já que ela precisa ser divulgada e seu autor precisa ganhar dinheiro, se sustentar, para manter viva a chama de fazer arte. Mas desde os anos setenta que esta idéia está sendo levada muito a sério. A música que se faz de lá para cá é geralmente encomendada por um cartel de gravadoras que se unem para fazer moda e ditar tendências. Tudo isso em comum acordo com o resto da mídia, televisiva, radiofônica e imprensa escrita.
Quem tem mais de quarenta anos deve se lembrar de como tudo isso começou. Eu, por exemplo, me lembro de uma tendência lançada na novela das oito que dizia que, se o bom mesmo é música internacional, vamos nós mesmos fazer a nossa música internacional. Daí vieram vários artistas que, mesmo sem saber falar inglês, começaram a cantar músicas compostas especialmente para esta moda. Tivemos o Fábio Júnior, que se chamava Mark Davis, o saudoso cantor Jessé, que se chamava Tony Stevens, o Christian, da dupla Christian e Ralf, que se chamava Christian mesmo, e até o Maurício Alberto, que se rebatizou de Morris Albert e conseguiu que uma de suas músicas fosse gravada até pelo lendário Frank Sinatra. Todas essas letras, com exceção de Feelings, tinham gramática, ortografia e semântica inglesas no mínimo duvidosas.
Depois que essa onda passou, as gravadoras aproveitaram os embalos de sábado à noite para lançar, junto com a novela Dancing Days, a nova moda, que também teve tupiniquim cantando em inglês: a discoteque. Luzes estroboscópicas, globos de luzes, meias com lantejoulas, sirenes tocando, e uma batida tipo bate-estaca produzida por uma bateria eletrônica que ensurdecia até o mais saudável ouvido humano, eram agora associados aos meios de comunicação para tocar em todos os lugares e vender milhares de LPs. E tome Miss Lene, Lady Zu, Santa Esmeralda, Bee Gees, John Travolta, entre outros. O lado bom da história é que, mesmo sendo uma arte fabricada, de vez em quando os frutos são positivos, como se pode ver no caso de Morris Albert e dos australianos Bee Gees.
Mas muito ainda se estava por vir. Não é que, depois dessa onda, o rock nacional conseguiu abrir uma exceção às músicas fabricadas e lançou bandas e cantores que já estavam batalhando havia muito tempo e tinham um teor artístico muito aguçado? Não que se seja contra que alguém faça sucesso da noite para o dia, mas a legitimidade de quem ganha experiência depois de anos e anos de estrada, nos dá uma confiança maior na qualidade do resultado final. Depois do grupo A Cor do Som, a banda Blitz estourou nas paradas de sucesso com seu rock teatral e seu jeito irreverente comportadinho. Logo seguidos pelo Barão Vermelho, uma reedição dos Rolling Stones no Brasil, vieram os brasilienses Legião Urbana, com letras trabalhadas e músicas simples, seguidos pelo Capital Inicial. Depois a explosão do RPM que chegou à incrível marca de dois milhões e meio de cópias vendidas do seu Rádio Pirata Ao Vivo. Esse foi um dos últimos suspiros dessa leva que conseguiu imortalizar muito poucos, como os poetas Cazuza e Renato Russo.
Esse surto de boa música, honesta e consciente, acabou antes do final da década de oitenta. Mas não esqueçam que nem tudo eram flores naqueles dias. Tivemos que ouvir muita Xuxa com seus ilariês antes da nova onda ser lançada pelas gravadoras: a lambada. Vendida como mais um ritmo musical, uma tendência, a lambada nada mais era do que uma dança, que consistia em rodar a saia da menina para aparecer uma calcinha minúscula. Foi aí que os programas das tardes de domingo faturaram horrores e conseqüentemente, começaram uma guerra entre eles, mostrando até crianças dançando e mostrando as nádegas. A lambada era o prenúncio que o pior estava por vir.
Comendo pelas beiradas estavam os auto-intitulados sertanejos, que nada mais eram (são!) do que breganejos. Músicas bregas, boleros e canções, cantadas a duas vozes- geralmente uma delas esganiçada - e com acompanhamento, geralmente, muito competente, comprado pelos milhões faturados pelas duplas. Porém, bem longe das beiradas já estavam os pagodeiros. Não se sabe ao certo o por quê de se colocar o nome dos templos budistas nesse samba canção inventado nos morros do Rio de Janeiro. Esta é uma tendência que veio pra ficar, graças à força cultural daquela cidade.
Estamos agora na década de noventa. Como conseqüência daquela idéia da lambada, resolveu-se dar mais audiência às televisões nas tardes de domingo, mostrando um ritmo que é ladeado por uma coisa mais importante do que a música em si: os traseiros enormes das baianas. Mais uma vez as tardes de domingo, quando a família se reúne em frente da televisão, são invadidas por uma seqüência competitiva de grupos baianos que só trazem percussão e pessoas sem talento, rodeados de mulheres em trajes mínimos. O mais engraçado é que esta nova “tendência” não vendeu muitos discos, mas vendeu muito mais revistas masculinas. Não vamos comentar as letras das músicas, por que os erros de português e os excessos de vogais nos impedem de tecer qualquer crítica. Mas o pior ainda estava por vir.
Depois de um pequeno surto do funk - logo abafado pela imprensa que associou o movimento ao tráfico e ao consumo de drogas - a nova onda da segunda metade da década dos anos 2000 é o forró. Mais uma vez um ritmo, originalmente o baião e o xote, e agora não se sabe bem o quê, foi rebatizado com o nome da sua dança. O forró que se fazia na época de Luiz Gonzaga e Dominguinhos agora foi rebatizado de Pé de Serra, pois o nome forró agora pertence a uma nova oligarquia, que arregimenta rádios e mais rádios das capitais e do interior, que entram em cadeia com pequenas redes de televisão, para divulgar bandas sem identidade e sem ideologia, que fazem um som apenas dançante, com letras apelativas e sem sentido. O pastel nunca foi tão ruim e tão barato.
Depois de tantas armações das grandes e pequenas gravadoras com a mídia, que nos empurra arte de consumo imediato, esqueceu-se da original função dela, que é fazer bem aos sentidos e se incorporar à cultura, porém de uma maneira benéfica, preservando o que há de bom e inovando com boas idéias. Era assim desde os clássicos e está deixando de ser desde a implantação da chamada Indústria Cultural, que raramente tem o dom de reunir qualidade e produção artística.

Um comentário:
Kildare, parabéns pelo texto. Muito bom. Vida longa e sucesso à versão 2.0 do Usina de Notícias.
Postar um comentário